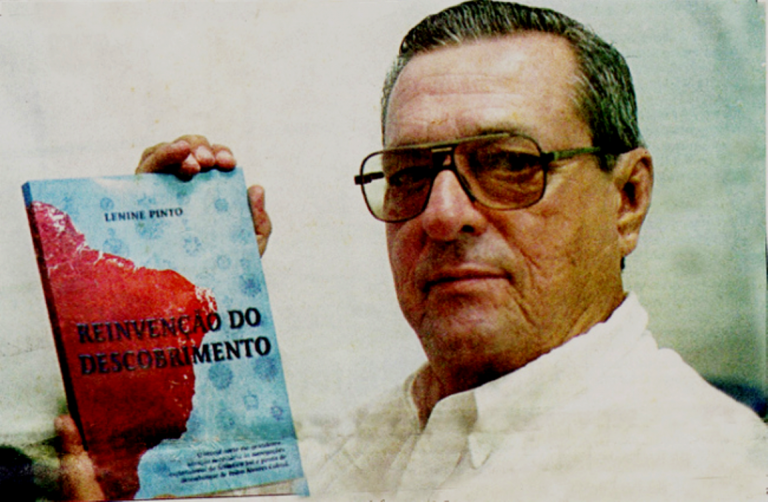Viena – Áustria, 21 de Abril de 2014
Quando eu era moleque coloquei na cabeça que estaria fadado a não realizar certas coisas na vida: não teria filhos, não aprenderia a dirigir, nunca viajaria para fora do país, não falaria nenhum idioma estrangeiro e nunca seria rico. Para meu infortúnio, parece que apenas o último vaticínio é realmente o único que vai mesmo se cumprir.
Desde que comecei a estudar francês com quinze anos (primeiro na Aliança Francesa, depois da ETFRN) praticar idiomas estrangeiros virou um passatempo pra mim, além de ser um ótimo exercício mental para não enferrujar as engrenagens neuronais que desempacotam a nossa linguagem.
Por isso, após cinco dias em Praga, chegar em Viena foi como voltar a ouvir o sotaque de vovó. Comparado ao estranhamento linguístico do festival de sinais esquisitos em cima das letras que o idioma Tcheco produziu, o alemão austríaco fica até parecendo fácil.
Em função disso, atravessar a fronteira da República Tcheca com a Áustria de ônibus e começar a compreender alguma coisa das placas, conseguir ler cartazes de rua, entender o letreiros das lojas pra saber o que elas vendem e entabular duas ou três palavrinhas com taxistas pra se localizar na cidade é quase como voltar para aquela Natal acolhedora, cantada magistralmente por Pedrinho Mendes em Linda Baby (o hino não oficial da minha cidade).
Pra cumprir a travessia que durou mais ou menos doze horas (em função de duas paradas estratégicas) pegamos carona em um ônibus de excursão que estava passando pelo nosso hotel e que nos ofereceu dois lugares vagos a um preço bem razoável.
A primeira parada do grupo foi ainda do lado Tcheco, numa espécie de “Pipa da Bohemia”, só que sem praia. Tratava-se de uma cidade medieval cujo nome esqueci de anotar no meu diário e que ainda mantinha a muralha separando o interior da vila do mundo exterior. Um lugar cheio de turistas, pousadas, bares e lojas de souvenirs. Tudo preparado para oferecer ao público pagante a sensação de se estar numa cidade do século X com festas de música eletrônica, wi-fi grátis e variados aditivos químicos pra turbinar a viagem.
A segunda parada já foi do lado austríaco, em um lugarejo chamado Dürmstein, às margens do Danúbio (que era bem mais escuro, turvo e barrento do que a valsa de Strauss nos fez pensar todos esses anos). O lugar fica a uns 70 quilômetros a noroeste da cidade de Viena, justo na beira do rio mais famoso da Europa, bem dentro de um vale montanhoso no pé daquilo que vai virar os Alpes, a grande barreira geológica que separava o mundo germânico da civilização mediterrânea.
No tempo de Arminius (o pai mitológico de todo nacionalismo teutônico, articulador da primeira grande federação de tribos germânicas que lutou contra a potência militar dos romanos) eram esses Alpes, com suas florestas sombrias e seus picos gelados, a maior barreira natural contra a influência do império dos césares e da cultura latina.
O guia da excursão era um brasileiro que parece que morava há algum tempo na Espanha e fazia costumeiramente esse percurso pela Europa do Leste com várias famílias latino americanas. No ônibus tinha gente da Argentina, México, Colômbia, Peru.
Vou confessar uma coisa… morro de medo de encontrar brasileiros que moram há algum tempo na Europa, especialmente se tiverem algum sobrenome italiano ou alemão.
O tal guia, que falava espanhol com uma estranha mistura de sotaque, meio gaúcho e meio paulista, andava pelo ônibus como se estivesse cheirando merda, de tão empinado que era o nariz. Talvez ele não tenha gostado de saber que um casal de compatriotas nordestinos havia invadido o espaço ibero-americano daquela excursão para seguir em direção ao sul.
“Desafotunadamente, no puedo hablar portugués” – ele disse pra gente, com aquela afetação pedante que sempre exala da alma dos medíocres.
Poucas coisas são mais provincianas, amigo velho, do que um periférico do sul global que pensa poder participar da festa aristocrática dos povos do norte porque um bisavô ou uma bisavó desceu o atlântico num porão de terceira classe em um navio de imigrantes no final do século XIX. Por isso, contamos até dez para não mandar o cara se lascar e descemos para comer alguma coisa no restaurante em forma de estalagem alpina, que ficava próximo de um estacionamento cheio de ônibus de turistas (o que me fez pensar que a famosa parada no posto de Lages, no meio do caminho entre Natal e Mossoró, é mesmo uma instituição universal no mundo das estradas).
A moça que trabalhava no balcão foi extremamente gentil, bem ao contrário do nosso compatriota. Ela se esforçou pra falar um Hochdeutsch (alemão padrão) pausado que me permitisse compreender as sutilezas do cardápio.
Na verdade o alemão que os garçons e funcionários da tal estalagem falavam entre si era, para mim, absolutamente incompreensível. Não porque falassem rápido ou por causa do sotaque peculiar dos austríacos, me parecia muito mais um dialeto, uma variação local das inúmeras línguas derivadas do proto germânico que se espalharam pela Europa central e que foram paulatinamente sendo substituídas, na formação escolar oficial, pelo alemão padrão (provavelmente o alemão falado em Hannover), que Lutero teria usado para traduzir a Bíblia.
Esse é um fato bem interessante pra se compreender essa gente. A unificação linguística dos povos germânicos foi um projeto político, não uma construção espontânea de uma comunidade unificada de falantes (como no caso dos antigos gregos, que mesmo após se espalharem por distâncias geográficas monstruosas se identificavam através de um mesmo idioma helénico, com algumas pequenas variações dialetais).
Os alemães uniram o país unificando a língua e dai pensaram, nos tempos dos delírios do terceiro Reich, juntar todos os povos germânicos em um único e grande império, que se estenderia da fronteira com a França até o báltico, engolindo tanto aldeias perdidas nos vales alpinos como aquela, quando os bairros dos subúrbios de Praga.
Esse é um dado importante sobre a Europa. Estamos em um continente tribal. Se você imagina, por exemplo, que um país menor que o Rio Grande do Norte (como é o caso da Suíça) fala quatro idiomas, você sente na pele a base tribal que compõe essa região do globo. É como se em Caicó se falasse francês, em Mossoró alemão, em Natal italiano e em Touros um idioma obscuro como o Reto-romano.
Nesse caldeirão de províncias separadas por rios, vales, montanhas e florestas, as fronteiras linguísticas também acabaram se tornando fronteiras étnicas e o ambiente do interior da Europa me parecia cada vez mais com o de qualquer outro interior do planeta. Um sertão esverdeado e húmido, cheio de idosos monoglotas (só que bem mais ricos) disputando uma partida de bocha no fim da tarde, tomando vinho e cerveja em estalagens rústicas, enquanto jogam conversa fora e veem o tempo passar no crepúsculo dos seus anos de aposentadoria (pagas com o que restou do bom e velho Estado de bem estar social europeu).
Mas bastou entrarmos em Viena, já quase de noite, para perceber que o clima havia mudado e estávamos realmente em uma cidade imperial.
Descemos as malas em um hotel que ficava na Gudrunstrasse, e sem perder tempo saímos para bater perna pela vizinhança. A maioria dos restaurantes estava fechada como mandava a lógica de toda segunda feira à noite, em qualquer recanto desse planeta que conta os dias no ritmo do mito cosmogônico do Gênesis bíblico.
Viena tem aproximadamente 2,8 milhões de habitantes, em sua maioria, austríacos da gema. Apesar disso, esse povo germânico, que cavou trincheira nesse cantão montanhoso nas margens do Danúbio, para segurar a invasão fluvial de povos estrangeiros pela fronteira sudeste da Europa central, convivia com uma grande comunidade estrangeira. Isso dava ao lugar aquele ar cosmopolita, sem ser turístico, típico das grandes metrópoles.
Pelas ruas e pelas estradas que nos levaram à Viena, vários cartazes apareciam com rostos de candidatos ao parlamento europeu. Nessa estação, o tópico central da discussão, a julgar pelo que se podia ler nos cartazes, era o dilema da união europeia.
Europeu ou austríaco?
Eis a questão.
Na tessitura geográfica desse aglomerado de províncias tribais que é a Europa, a disputa pelas vagas do parlamento europeu naquela primavera vienense, me fazia pensar o quão difícil deve ser, para uma cidade que já foi o centro de um dos mais poderosos impérios do continente, se contentar em ser um parceiro de segunda ordem de uma Europa dominada pelos seus primos germânicos do norte. Os “alemães”, Justo eles, que não receberam, pelo curso do Danúbio, que talvez um dia tenha sido realmente azul, os mornos ares civilizatórios dos impérios mediterrâneos.
Antes de dormir, zapeando de canal em canal na TV do Hotel, percebi que, ao contrário de Praga, que exibia canais de vários lugares do mundo, (inclusive a RT russa que me entreteu bastante com programas que metiam o pau no modo de vida norte americano), os canais do hotel em Viena eram majoritariamente alemães ou austríacos. Fora disso não havia nada mais do que o feijão com arroz da media atlanticista (BBC, CNN, TV5, RAI…).
O luxo mesmo foi achar um canal de música, que passava uma propaganda de um produto de beleza feminino com trilha sonora de Femme Fatale, do Velvet Underground.
Ouvir a voz de Nico, uma das minhas rainhas lisérgicas prediletas, em uma propaganda de cosméticos, me antecipou um pouco o que essa estadia na velha capital imperial dos Habsburgo poderia me reservar.
Tem cidades que são assim, perdem o posto, mas não perdem a majestade.